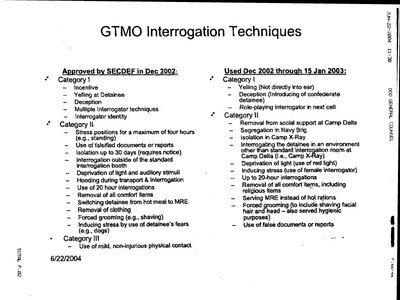«Há no centro de Ponette (filme realizado em 1995 por Jacques Doillon) uma sequência bastante curta que poderíamos intitular “Ponette e o espelho mágico” e que deveria ser uma antologia daquilo que é o trabalho, o risco, a loucura do actor.
Todo o filme instala a direcção de actores (tanto mais que se trata na maior parte de crianças actores) num lugar incandescente que fez medo a mais do que um. No entanto, precisamente nessa sequência, trata-se quase de uma experimentação do realizador e da actriz, Victoire Thivisol, de quatro anos.
Na segunda sequência do filme, depois de terem andando de carro ao longo da estrada em que Ponette e a sua mãe tiveram um acidente e em que saíram para observar o local exacto, uma conversa entre o pai dela e Ponette começa assim: “A tua mamã está morta. Sabes o que isso quer dizer?” e num sussurro: “Sim, ela vai-se embora com o seu espelho mágico”. Cinco sequências mais tarde, quando Ponette, que o pai deixou em casa de uns primos depois de um enterro, não quer entrar em casa à noite e permanece horas sentada numa velha grade enferrujada, a sua tia vem buscá-la: “Ela não vem, Ponette. Agora vamos para dentro. - É Jesus que decide o que devo fazer. - Sim, mas sou eu que cuido de ti, e Jesus conta comigo para isso.” A mulher afasta-se com a criança nos braços, é o fim do dia, tudo está já azul acinzentado e, na sequência seguinte, Ponette está no seu quarto e olha-se num pequeno espelho de boneca. Nesse momento, a personagem está suficientemente definida para que o espelho “mágico” indique tudo das intenções de Ponette, que quer voltar a ver a sua mãe, e que nada nem ninguém impedirá esse movimento que é o próprio movimento do filme.
Se observarmos esta sequência na continuidade narrativa, o seu carácter documental siderante sobre a relação entre o actor e a personagem não pode ser apreendido, dado que a emoção aflora sem cessar. É preciso ver e rever o filme, isolar a sequência para compreender a que ponto ela testemunha da fé do cineasta na representação do actor, na sua pesquisa, na sua experimentação e como em todo o filme se trata dessa fé mais do que qualquer outra. (É uma alusão àquilo que censuraram aqui [Cahiers] a Jacques Doillon e que, contudo, nunca foi censurado a Rosselini.)
O que olha Ponette no seu espelho mágico? E que procura Victoire no espelho de Ponette? O rosto pouco a pouco deforma-se para baixo. Victoire procura a tristeza de Ponette, nem um segundo ela se olha, a si, Victoire, menina de quatro anos, ela não se queda nesse rosto enfim gracioso, não faz essa afronta ao cineasta e ao espectador. (...) Victoire (...) tem quatro anos e aos quatro anos ela vai instantaneamente ao coração do mistério: representar o ser um outro, e de sua decisão: dar um rosto a Ponette. Decisão simples e concreta do que é representar, dar a representação de um sentimento e assim arriscar vivê-lo mas mantendo o olho fixo e o olhar puro.
Há um salto noutro mundo quando se representa o ser alguém de outro e, depois do olhar ciclópico da câmara, centenas de outros verificarão a qualidade desse salto.
É a Ponette quem devo o ter começado a entrever esse gesto e quem quiser aproximar-se, pode fazê-lo olhando Victoire escrutar o seu espelho mágico. A parte baixa do rosto afunda-se lentamente com Ponette, os olhos observam essa transformação, de fotograma em fotograma o rosto modifica-se, o olhar permanece escrutador e, de repente, perde-se e Victoire já não vê Ponette, há uma espécie de loucura nesse olhar. Talvez ela experiencie a desaparição, a de Ponette, a da mãe dela? Eis porque raramente corto, quase nunca, a câmara com o “Corta!” do realizador, mas antes alguns segundos mais tarde. Ao seguir o actor ou a actriz ao longo do plano, tomada após tomada, o seu ritmo torna-se o meu e esses segundos, em que depois do salto ele é intimado a voltar, são vertiginosos, por nada deste mundo o deixaria só nesse momento.» Caroline Charpentier, «Jouer», Cahiers, Março 2005, 8-9
[Algo que pensava decorrer do filme me tocou neste artigo. Pretendia assim fazer acompanhar esta tradução com o excerto em vídeo da cena em questão. No entanto, ao rever o filme, apercebi-me de que este não (se) aguentava, não o permitia. Estava demasiado obstruído, e falhava. Para piorar as coisas, o que o filme tem de mais sofrível decorre precisamente do trabalho de fotografia da autora do artigo, através de uma câmara irrequieta e falsamente colada às personagens (bem como o som, típico dos filmes franceses correntes actuais, demasiado grave e reverberado, indutor de uma também ela falsa proximidade). Portanto, seja o que for que faz o interesse do texto de Caroline Champetier, tal não me parece acessível na presença directa do filme. Debati-me longamente e acabei por fazer como no artigo original: apresentar vários fotogramas (ainda que não os mesmos). Assim consegue passar-se alguma coisa. Mas o que se perde não é menor. A crença numa pertença do dizer à imagem do filme, que aparece aqui claramente deslocado para um exercício analítico detalhado (como aliás avisa já a própria autora). Eis, então, nesta estranha relação entre aquilo a que nos fazem aceder as imagens fixas e as em movimento, a apresentação de um dos inúmeros limites da cinefilia.]